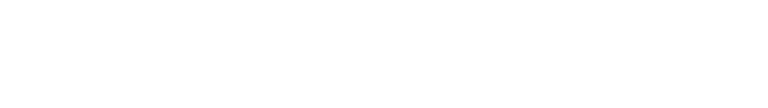Por Ethevaldo Siqueira
Um tema que ainda provoca debates é a preocupação com a “desnacionalização” da economia brasileira. Entre os leitores que me sugerem analisar o tema está o engenheiro e professor Ovídio Barradas, ex-diretor da Embratel e de diversas outras empresas privadas desse setor, um dos mais respeitáveis profissionais de telecomunicações do País.
Num contraponto à minha indignação com a política externa brasileira de “neutralidade” diante de Kadafi e de apoio explícito a outros ditadores sanguinários, Barradas diz que sua maior preocupação não é com a política externa, mas com os problemas internos, a começar da presença estrangeira na economia como um todo e, em especial, nas telecomunicações. Para Barradas, “nesse setor, os brasileiros são extrema minoria, quanto ao poder de decisão”. E o mesmo acontece na indústria automobilística, nos bancos, na indústria de alimentos e outros. E faz diversas perguntas sobre as causas dessa situação geral: “Será isso falta de competência? Falta de dinheiro? Ou um comodismo político entreguista, que não dá apoio e incentivo aos empreendedores e talentos nativos?”
Na mesma linha, o leitor José Luiz Pinto da Fonseca estranha a falta de apetite dos investidores brasileiros diante das telecomunicações: “Por que nosso sistema de comunicação passa a cada dia mais para as mãos de empresas estrangeiras? Será falta de dinheiro de empresários brasileiros, falta de interesse ou de competência mesmo? Para onde foram os brasileiros que antes dirigiam a Telesp e outras? Ou foi o BNDES que não os financiou?”
Já pensei dessa forma, num passado distante, numa visão a que eu chamaria de “nacionalismo sentimental”. Essa era a visão dominante de minha geração nos anos 1950 e 1960, muito antes do processo de globalização. Creio que o mundo atual não nos permite raciocinar com os mesmos argumentos de 50 anos atrás. Respeito os patriotas que estão preocupados com a necessidade de uma economia inteiramente controlada por brasileiros. Para eles, o importante é o “poder de decisão” estar nas mãos de brasileiros – mesmo que a população não tenha acesso aos benefícios do desenvolvimento ou da tecnologia. Isso me lembra o passado, quando nossas riquezas minerais permaneciam debaixo da terra, e isso era prova de “soberania”.
É claro que eu gostaria que os brasileiros fossem donos de tudo em nossa economia. Adoraria, sim, que todo “poder de decisão” estivesse em mãos de cidadãos nascidos neste País. Não sei, entretanto, se os resultados dessa situação seriam os melhores, mas meu sentimento de brasilidade estaria inflado e feliz. Fui estudar o problema com mais profundidade e descobri, com base nos dados do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, que a presença do capital estrangeiro na economia brasileira não chega a gerar sequer 20% desse produto. Não vejo como preocupante esse “poder de decisão”.
A xenofobia
O que me assusta, sim, é a possibilidade de retorno às políticas xenófobas do passado. Querem um exemplo? Cito a política industrial nacionalista das telecomunicações adotada no final do regime militar – época em que o governo chegou a exigir as multinacionais do setor fossem controladas pelo capital nacional. Assim aconteceu com a Ericsson, a Siemens, a Standard Electric e a NEC, “nacionalizadas” para ter o direito de fabricar aqui as centrais telefônicas digitais no começo dos anos 1980. O artificialismo dessa política setorial nada deixou de positivo ao País.
Pior ainda foi o que ocorreu na área de informática, em seu período de nacionalismo industrial mais radical. De 1972 a 1992, o País implantou a política de reserva de mercado na indústria de computadores. Ao final de duas décadas, o resultado foi um atraso de 20 anos no desenvolvimento nacional nessa área. A chamada política nacional de informática era claramente xenófoba. Proibia explicitamente a fabricação de microcomputadores em território nacional por empresas de capital estrangeiro. Ao longo de toda a sua vigência, o País não deu prioridade a investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, nem à formação de recursos humanos de alto nível.
Curiosamente, a politica nacional de informática era apoiada pelo grupo mais variado de partidos, pessoas e entidades: por acadêmicos, pela esquerda mais radical, pela “burguesia nacional” das empresas fabricantes beneficiárias de reserva e pela chamada comunidade nacional de informações, liderada pelo antigo SNI (Serviço Nacional de Informações). Ideologicamente, unia a extrema direita à extrema esquerda: uma verdadeira arca de Noé.
Como projeto nacional que visava à criação de competência nacional na área, a política nacional de informática deu poucos resultados positivos porque se resumiu à reserva de mercado, não aportando investimentos expressivos em pesquisa e desenvolvimento, nem na formação de recursos humanos altamente qualificados ou no desenvolvimento de uma indústria nacional de componentes eletrônicos ou de software.
Nos discursos inflamados em defesa daquela política, as expressões que mais ouvíamos se referiam a uma “tecnologia genuinamente brasileira” – em nome da “soberania nacional”. O que nos faltava, entretanto, eram produtos de qualidade a preços acessíveis. A expressão proibida era a “satisfação do usuário”. Lembro-me de um dos mais candentes defensores da política nacional de informática, um jovem cientista, que dizia, com orgulho e arrogância: “Nosso objetivo é fortalecer o poder nacional. O usuário que se lixe, pois ele sempre quer o melhor produto pelo menor preço. Nenhum usuário é patriota nem nacionalista.”
R$ 620 bilhões!
O leitor já ouviu, com certeza, a expressão privataria, para caracterizar a privatização das telecomunicações. Além de lamentar a “desnacionalização” do setor, os defensores do modelo estatal sempre afirmam que a Telebrás foi vendida a “preço de banana”. No entanto, leitor, essa privatização rendeu ao Brasil um volume impressionante de recursos: R$ 620 bilhões. Repito: R$ 620 bilhões ou, se falarmos em dólares, US$ 370 bilhões. Faça os cálculos. O controle acionário da Telebrás foi vendido em leilão aberto a todos os interessados por R$ 22,26 bilhões, ou US$ 19 bilhões da época (julho de 1998), valor pago por apenas 19% das ações que estavam em poder do governo federal.
É bom lembrar que, além desses R$ 22,26 bilhões, o governo brasileiro ganhou mais R$ 45 bilhões com a venda de licenças às novas operadoras de telefonia fixa e de celular. Acrescentemos, portanto, essa receita ao valor do leilão e chegamos a R$ 67,26 bilhões. Além desse total, as novas operadoras privadas investiram um total de R$ 190 bilhões para expandir o sistema brasileiro de telecomunicações. Com esse investimento, o “preço de banana” já subiu para R$ 257,2 bilhões.
É preciso incluir também o total de tributos arrecadados apenas sobre as contas telefônicas da nova rede nacional de telecomunicações nos últimos 10 anos, que alcançou mais de R$ 330 bilhões em impostos sobre os serviços de telefonia, e ainda o confisco R$ 32 bilhões dos fundos setoriais de telecomunicações (Fust, Fistel e Funttel). Desse modo, o resultado final do “preço de banana” da privatização das telecomunicações chega a R$ 619,2 bilhões.
Notem que as vantagens financeiras da privatização foram obtidas pelos governos de FHC (4 anos) e Lula (8 anos). A grande expansão da infraestrutura de telecomunicações, por sua vez, resultou exclusivamente do investimento feito pelas empresas privadas, da ordem de R$ 190 bilhões, em seguida à privatização da Telebrás. Foi esse investimento que fez o Brasil saltar dos 24,5 milhões de acessos telefônicos (fixos e móveis) que tinha em 1998, para os atuais 250 milhões.
Por outras palavras: o Brasil tem hoje uma infraestrutura 10 vezes maior do que a da Telebrás em 1998. Nos últimos 12 anos, a densidade telefônica passou de apenas 14 para 131 acessos por 100 habitantes, enquanto o número de usuários da internet saltou de 2 milhões para 73,9 milhões de internautas, segundo a última pesquisa Ibope-Nielsen Online, divulgada há poucos dias. O maior preço que pagávamos pelo modelo estatal era não ter telecomunicações. Agora, temos problemas de outra natureza, nenhum deles, contudo, decorrente do “poder de decisão” estar nas mãos de estrangeiros.
Há problemas, sim
Os defensores da estatização sempre levantam uma questão fundamental: “Esses números extraordinários significam que tudo vai às mil maravilhas no setor de telecomunicações?” Absolutamente, não, meu caro leitor. Os problemas existentes não se referem ao “poder de decisão” dos acionistas estrangeiros, mas à omissão do governo federal diante de um setor privatizado. O governo não cumpre seu papel nem suas obrigações fundamentais, que deveriam incluir: a) a formulação de políticas públicas para redirecionar os investimentos para novos setores, como os de banda larga; b) a modernização da legislação; c) a fiscalização rigorosa da qualidade dos serviços, que, embora seja muito melhor do que a dos tempos da Telebrás, ainda tem muitos problemas; d) a elaboração de uma política industrial; e) a coordenação de um grande esforço nacional de desoneração fiscal dos serviços.
Esse é o imenso passivo governamental diante das telecomunicações brasileiras nos últimos 12 anos. Poderíamos fazer um levantamento semelhante sobre os benefícios da privatização e a inércia estatal em outras áreas, como, por exemplo, nos setores de siderurgia (em especial, o da Vale) e da indústria aeronáutica (Embraer). Qualquer setor privatizado exige atenção especial do governo – quanto à fiscalização da qualidade dos serviços prestados e os padrões de atendimento do usuário. Além desses deveres essenciais, os governos deveriam cuidar de forma permanente da formação de recursos humanos, do estímulo à pesquisa e desenvolvimento, do financiamento à empresa nacional, da fiscalização rigorosa, da regulação criteriosa e na atualização da legislação.
Mas os governos são tradicionalmente relapsos e não fazem sua lição de casa. Esse é o grande problema.
*Publicado em O Estado de S.Paulo em 30/03/2011