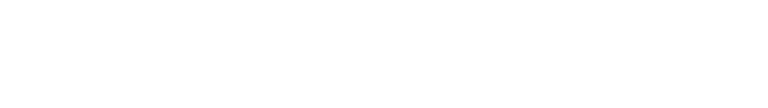Por Muniz Sodré*
Se fosse outro o contexto discursivo, o deputado Sérgio Moraes (PTB-RS) poderia apelar, em defesa própria, para algumas fontes acadêmicas. Posta à parte a referência rebarbativa ao “lixo”, é possível polemizar em torno da existência dessa entidade denominada “opinião pública”.
Não é uma tarefa simples, mesmo se levarmos em conta o ponto de vista de autores como Noelle-Neumann, para quem a opinião pública seria a “nossa pele social”. Em sua argumentação, o medo do isolamento, devido às pressões da moderna sociabilidade, leva os indivíduos a tentarem avaliar continuamente o clima opinativo de seu ambiente social. Os resultados da avaliação influiriam nas formas públicas de expressão.
Uma posição classicamente discordante, velha de mais de 70 anos, é a do famoso jornalista norte-americano Walter Lippmann que, como observa Wilson Dizard (em A nova mídia – a comunicação de massa na era da informação, Zahar, 1998), desconfiava das afirmações de que os cidadãos baseiam suas decisões políticas e sociais no estudo objetivo dos fatos pertinentes. Acrescenta: “A maioria das nossas decisões se baseia no que ele chamou de `imagens em nossas cabeças´, isto é, percepções e preconceitos estanques. A idéia de uma opinião pública informada decidindo questões e ações, disse ele, é, em grande parte, uma fantasia desejável; a tarefa de dirigir o país é realizada pelas elites.”
O impeachment de Clinton
No entanto, o conceito de opinião pública – produto ideológico direto da Revolução Francesa – é ainda mais velho que o ponto de vista de Lippmann. Visto como uma imagem totalizante das opiniões individuais da cidadania, esse conceito legitimava-se como uma entidade moral e fiscalizadora dos três poderes institucionais da República.
Mas só a partir da terceira década do século passado é que os franceses o introduzem na terminologia da ciência política, dando margem ao surgimento da medida estatística do substrato coletivo, administrado por institutos de pesquisa. A disseminação dos métodos de modelagem matemática da opinião é, porém, um fenômeno norte-americano.
Em Antropológica do Espelho (Vozes, 2003), procuramos mostrar que essa “opinião” é instrumento de um novo regime de visibilidade pública e, portanto, um novo tipo de controle, que no geral pode ser classificada como objeto inexistente.
Para o sociólogo francês Patrick Champagne (em Formar a opinião – o novo jogo político, Vozes, 1988), “na realidade, o que existe não é a `opinião pública´ ou mesmo `a opinião avaliada pelas sondagens de opinião´, mas de fato, um novo espaço social dominado por um certo número de agentes – profissionais de sondagens, cientistas políticos, conselheiros em comunicação e marketing político, jornalistas etc. – que utilizam tecnologias modernas como a pesquisa por sondagem, computadores, rádio, televisão etc.; é através destas que dão existência política autônoma a uma `opinião pública´ fabricada por eles próprios, limitando-se a analisá-la e manipulá-la e, em conseqüência, transformando profundamente a atividade política tal como é apresentada na televisão e pode ser vivida pelos próprios políticos”.
Nossa questão é: isto significa que a opinião pública não existe mesmo? O que dizer então da convicção de sérios analistas da política norte-americana de que o impeachment do presidente Bill Clinton, em virtude do escândalo sexual com uma estagiária da Casa Branca, teria sido evitado apenas pelo peso da opinião pública?
Zonas de sombras
Por mais complexa e obscura que seja a trama dos acontecimentos, pode-se também levar em conta as afirmações de outra linha séria de analistas (dentre os quais Hillary Clinton) no sentido de que a tentativa de impeachment foi de fato um quase golpe de Estado manobrado por facções direitistas. Assim como no caso do término da guerra do Vietnã, as terminantes do resultado final teriam ocorrido nos bastidores do poder, na forma dos velhos segredos de Estado.
Para nós, o que hoje ocorre é que o controle estatístico da cidadania pelas sondagens canaliza e orienta certas disposições preexistentes ou latentes de uma atmosfera afetiva, convertendo-as virtualmente em “opinião pública”. Se esta última existe é como uma estratégia de buscar, por intermédio da mídia, o que de algum modo já se tem. E, nas campanhas políticas, o eleitoralismo resultante termina levando à convicção de que a democracia seria pura soma de vontades individuais (a exemplo na escolha “democrática” na esfera do consumo), em vez do equilíbrio real de forças entre interesses de grupos divergentes.
Não há dúvida, entretanto, de que essa “atmosfera afetiva” – que os antropólogos chamam de ethos – é às vezes muito maior do que a sua simples medição técnica, não raro constituindo-se em zonas de sombras, em matéria de comportamentos imprevistos – principalmente no que diz respeito à distância profunda entre as atitudes expressas pela mídia (suporte presumido da “opinião pública”) e aquelas manifestadas pelo público.
Unidade e homogeneidade fictícias
Na Alemanha, antes de março de 1933, Hitler jamais havia contado com uma imprensa importante; em 1944, nos Estados Unidos, Roosevelt foi reeleito contra 78% dos jornais; na Inglaterra, em 1945, a maior parte da grande imprensa era favorável a Churchill, o grande vitorioso da Guerra, mas este foi derrotado pelos trabalhistas; no Brasil, Kubitschek foi eleito sem a maioria da imprensa e, mesmo o Correio da Manhã retirou o apoio durante a campanha.
Há um certo consenso dos pesquisadores quanto à importância da ação pessoal como meio importante de modulação das opiniões. É conspícuo o papel daqueles que se pode chamar de “líderes de opinião”, senão de “figuras-chave” que, por suas funções ou por prestígio, são capazes de influenciar o seu entorno. A esses a mídia se dirige idealmente (como uma espécie de receptor-tipo), buscando assegurar a fidelidade dos partidários e confirmando opiniões já existentes.
Mas para a ideologia democratista da mídia é preciso sempre insistir na ficção de unidade e homogeneidade da opinião pública, como se esta fosse uma entidade suscetível de rejubilar-se ou ofender-se unitariamente. Renegá-la é incorrer no delito de lesa-moralidade-democrática, ainda mais que a atitude é corroborada pelas conotações de lixo ou dejetos. Na verdade, a temeridade do deputado, reflexo do desprezo crescente pelas aparências na vida parlamentar, acabou “desocultando” uma realidade presente, mas publicamente silenciada, na esfera de liderança em que ele próprio se movimenta. Tratou-se mesmo de uma ofensa ao pudor do discurso. Algo como “estou me lixando para a opinião pudica”.
*Artigo publicado no site Observatório da Imprensa, em 19/05/2009. O autor é jornalista, escritor, tradutor, professor de Comunicação na UFRJ e diretor da Biblioteca Nacional.