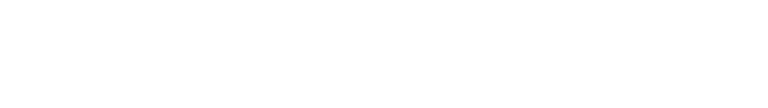Por Orlando Barrozo
Bem, agora que a eleição passou podemos – acho – discutir o dilema privatização vs. estatização com um pouco mais de civilidade e bom senso. Aqueles que temiam perder seus empregos públicos se por acaso vencessem os “privatistas”, agora podem dormir tranqüilos, e passar no guichê no final de cada mês. Pelo menos nos próximos quatro anos, pouco ouviremos falar do assunto, embora este seja de importância fundamental para os destinos do País.
Durante a campanha eleitoral, os principais candidatos deram fartos exemplos de que não queriam tratar do tema – ou não sabiam como fazê-lo; e, quando o fizeram, usaram de tal demagogia que foi como se não o tivessem feito. As regras do marketing devem ter ensinado a eles que um bom debate a respeito não dá nem tira votos. E talvez seja mesmo verdade. No entanto, acho difícil encontrar em qualquer plano de governo algo que tenha tanto impacto na vida das pessoas, para o bem ou para o mal, quanto a opção entre privatizar e estatizar.
Ainda outro dia, o eminente prof. José Pastore, maior autoridade do País em matéria de políticas trabalhistas, dava alguns exemplos, em sua coluna no jornal O Estado de S.Paulo (seus textos também estão disponíveis – e são uma fonte inesgotável de saber – no site www.josepastore.com.br). Especulando sobre quais seriam as diretrizes da presidente Dilma em relação ao assunto, Pastore levantou duas hipóteses: se a futura presidente quiser atender a todas as reivindicações das centrais sindicais, muitas delas já transformadas em projetos-de-lei que tramitam pelo Congresso, o País corre o risco de ser sucateado, como foi a Argentina; se, ao contrário, Dilma agir com cautela e procurar aos poucos corrigir as enormes distorções que afetam hoje as relações entre empresas, governo e trabalhadores, terá de enfrentar forte reação dos oportunistas, que estão sempre de prontidão.
Cito o prof. Pastore porque admiro, entre outras qualidades, seu eterno bom senso. Não se trata da velha disputa direita x esquerda, ou capitalismo x socialismo, discussões superadas pelo próprio tempo. O atual governo brasileiro – que acaba de ser reeleito – nem é de esquerda, como muitos querem fazer crer, pois a seu lado estão todos os grandes bancos, empreiteiras e os principais grupos econômicos. Trata-se, aqui, de desfazer os mitos criados em torno do processo de privatização executado pelo governo FHC; e, como conseqüência natural, tentar explicar a reestatização idealizada neste final do governo Lula.
Ditadura e corrupção
Vamos lá, então. Os mais jovens talvez desconheçam, mas no período entre as duas ditaduras que tomaram o poder no século 20 (a de Getulio Vargas, entre 1930 e 1945) e a dos militares (1964-1985) a economia brasileira dependeu fortemente do Estado. Quase nada teria sido construído no País – de estradas a usinas hidrelétricas, de redes telefônicas a fábricas de automóveis – não fosse o investimento estatal. Esse processo vigorou também nos breves intervalos democráticos, como o governo de JK, nos anos 50, e teve como resultado a forte industrialização do País.
Infelizmente (para alguns, nem tanto), o fato de não vivermos numa democracia na época acabou produzindo outro tipo de conseqüência: inúmeros projetos executados pelo governo brasileiro foram contaminados pelo desvio de verbas, ajudando a gerar grandes fortunas mas, no final das contas, produzindo a maior dívida pública da História. Como não tinham que dar satisfações de seus atos (tribunais de contas não fiscalizavam nada, e ministérios públicos sequer existiam), os governantes de então agiam conforme suas próprias conveniências, e as de seus amigos.
Com certa dose de otimismo, é possível supor que, se naqueles anos vivêssemos uma democracia, talvez o Brasil não tivesse chegado ao ponto de se tornar motivo de piada pelo mundo afora. Pessoalmente, posso relatar que não foram poucas as vezes em que ouvi, no Exterior, brincadeiras sobre o tamanho de nossa dívida externa e de nossa inflação. Não sei se já ensinam isso nas aulas de História do Brasil, mas chegamos ao final da década de 1980 com uma inflação de 80% ao mês. Isso mesmo: mais de 1.000% ao ano! Parece que foi ontem…
Os dois governos que vieram depois da ditadura militar – Sarney e Collor – trataram de enterrar as poucas esperanças de saída disponíveis. Ajudados por governadores como Maluf e Quércia (São Paulo), Brizola e Moreira Franco (Rio de Janeiro), ACM (Bahia) e outros do mesmo calibre, afundaram as empresas estatais que ainda funcionavam. É difícil acreditar, mas marcas como Embraer, Vale do Rio Doce (hoje, apenas “Vale”), Telebrás, Embratel, Eletropaulo, Cosipa, Usiminas e tantas outras – todas com capital majoritário estatal – valiam quase nada. Estavam quebradas e caminhavam rapidamente para desaparecer. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conseguiam se manter, mas seus dirigentes (os bem intencionados) não conseguiam impedir o vazamento de dinheiro para fins políticos.
As agências reguladoras
Como se vê, o mesmo processo de estatização que foi tão importante para erguer o País descambou numa corrupção incontrolável, que nos colocou de joelhos perante o mundo. Há quem diga que foi um golpe de sorte, mas o fato é que somente com o Plano Real, decretado pelo presidente Itamar Franco em 1994, o Brasil começou a sair daquele atoleiro. O controle da inflação que corroía os salários de todos os trabalhadores foi o primeiro passo. Depois, um plano de recuperação das finanças públicas, que passava necessariamente pelo saneamento das estatais. E, a seguir, um conjunto de leis que garantisse a volta dos investimentos, entre elas uma regra da qual pouco se ouvira falar no País até então: a do cumprimento de todos os contratos (sim, até ali era usual romperem-se compromissos, ao sabor das conveniências).
Durante os oito anos de FHC, com a inflação relativamente domada, tratou-se de fechar as torneiras por onde escapavam bilhões em dinheiro público. Ao mesmo tempo, para fazer voltarem os investimentos, foram criadas as agências reguladoras, em moldes semelhantes às que existem em países como EUA, Alemanha e Inglaterra. Seu papel era bem claro: produzir um ambiente normativo em que setores estratégicos – energia, telecomunicações, transportes – se desenvolvessem com o mínimo de injunções políticas.
Considerando a situação geral das estatais e a baixa capacidade de investimento do governo, o raciocínio parecia correto: se as agências fizessem bem seu trabalho, os investidores externos voltariam e, aos poucos, aqueles setores estratégicos conseguiriam se recuperar. É bom lembrar que o mundo vivia na época uma crise financeira, com os países emergentes disputando cada centavo dos investidores e implorando por ajuda das nações mais ricas. Com um detalhe particularmente cruel para o Brasil: a China despontava como “menina dos olhos” das multinacionais, que ali despejavam uma infinidade de projetos; todos os demais emergentes estavam em segundo plano.
Além de definir o ambiente competitivo adequado, cabia às agências reguladoras outras duas missões fundamentais: estabelecer metas para a prestação de serviços públicos e fiscalizar a atuação das concessionárias. Para tanto, começaram a ser formados quadros técnicos de alto nível, com base numa estrutura que chegou a existir na época dos militares, especialmente nos setores de energia e telecomunicações. A ideia era que, sendo conduzido sobre conceitos técnicos, alinhados com o que de mais moderno se fazia no mundo, o processo de saneamento e reestruturação ganharia a credibilidade necessária.
Os deveres do Estado
Por trás dessas boas intenções, havia ainda a filosofia de que cabe ao Estado prover serviços públicos da melhor qualidade possível, usando para isso os recursos recolhidos através de impostos e tributos. Uma filosofia que remonta ao próprio nascimento da ideia de democracia, na Grécia antiga, e que foi aperfeiçoada na Europa a partir do século 16. Vale dizer, as agências reguladoras seriam o instrumento pelo qual o governo liberaria o mercado para produzir, ao mesmo tempo em que manteria olhos atentos sobre quem tentasse fazer mau uso dessa liberação.
Ainda no terreno da filosofia, podemos especular que, com agências reguladoras fortes e ágeis, o Estado poderia retomar um papel também consagrado no Primeiro Mundo e, desgraçadamente, abandonado pelos sucessivos governos brasileiros: o de garantidor dos direitos básicos da população. Refiro-me, é claro, a saúde, segurança, educação e (em menor escala) habitação. Na partilha dos recursos advindos do contribuinte, qualquer administrador público sabe das funções que são obrigatórias do governo. O que é mais fundamental à população: médicos e hospitais de bom nível, ou usinas siderúrgicas?
Dentro dessa premissa, supõe-se que um orçamento público honesto sempre irá carrear mais dinheiro para escolas, hospitais etc. do que para fábricas, pontes e assim por diante. Infelizmente, não é isso que acontece no Brasil, não apenas nos dias atuais, mas praticamente desde que Cabral aqui chegou. O agravante é que, durante o período militar (anos 60/70), uma trágica confluência de interesses serviu para piorar ainda mais a situação. Em troca de favores políticos (por exemplo, dedurar militantes de esquerda, que atuavam na clandestinidade contra o regime), empresários se aproximaram de governantes poderosos e obtiveram a aprovação de projetos de seu interesse.
Pode-se apontar como resultados diretos desse tráfico de influência, por exemplo, o crescimento das empreiteiras e construtoras, que passaram a dominar as concorrências para as grandes obras; a desarticulação do ensino público, que abriu espaço primeiro para os cursinhos pré-vestibular e depois para os grandes conglomerados de escolas privadas (da pré-escola à Universidade); e a decadência total do sistema público de saúde, cuja contrapartida foi a explosão dos planos de saúde, hoje quase fora de controle.
São apenas três exemplos, mas significativos para mostrar como o poder público abriu mão de suas obrigações – previstas até na Constituição – para cuidar de outros afazeres que poderiam perfeitamente ser deixados à iniciativa privada. Desnecessário entrar aqui na discussão, levantada pelos fundadores da democracia americana, dois séculos atrás, de que o Estado é um “mau empresário”. A derrocada dos regimes socialistas fala por si só. Mas é imperativo lembrar que, na antiga União Soviética, símbolo máximo dos regimes socialistas, atingiu-se um grau de prestação de serviços públicos básicos – especialmente em educação e saúde – que mereceu elogios de inúmeros experts (o mesmo aconteceu em Cuba). Ou seja, nesses países o Estado quis ser empresário, e fracassou, mas não deixou de garantir ao cidadão o mínimo necessário.
O papel do cidadão
Fica claro, portanto, que o problema não está quando se identifica este ou aquele governo de “esquerda” ou “direita”, capitalista ou socialista. O dinheiro arrecadado pelo Estado deve ser usado, antes de mais nada, para suprir as necessidades dos cidadãos, inclusive daqueles que não têm condições de pagar impostos. Se, cumpridas essas obrigações, sobrarem recursos, talvez seja o caso do governante pensar em investir, digamos, em fábricas de telefones. Mas apenas se sobrarem – o que raramente acontece, mesmo nos países ricos.
Concluímos, com isso, que é falso o dilema entre estatizar e privatizar. Defensores de uma e outra política freqüentemente argumentam com subterfúgios ou sofismas para desqualificar os oponentes, fugindo ao debate que realmente interessa – como se viu, mais uma vez, nas últimas eleições. Demonizar as privatizações, como fazem alguns, é tão desonesto quanto afirmar que tudo pode ser resolvido pelas “forças do mercado”. Um governo que tenha respeito pelo cidadão – que é, afinal, quem o sustenta – deve estar aberto para as duas possibilidades, sempre levando em conta o interesse da sociedade como um todo, e não dos grupos que, espertamente, gravitam em torno do poder para auferir benefícios das políticas públicas.
Para ficarmos apenas no campo das telecomunicações, pensar que o governo pode, sozinho, universalizar o acesso à banda larga é tão irreal quanto aceitar que as operadoras privadas sejam capazes de prover redes e serviços de bom nível sem a fiscalização de um órgão público independente e qualificado. Lamentavelmente, o governo Lula – que em sete anos e meio mal tocou no assunto, embora tivesse dinheiro e poderes para isso – decidiu tardiamente implantar seu plano de banda larga, optando por reativar uma estatal fracassada (a Telebrás) e entrar em rota de colisão com as concessionárias. Pior: fez isso por decreto, sem consultar o Congresso e esvaziando completamente os poderes do Ministério das Comunicações e da Anatel, a agência reguladora do setor. Quase como nos tempos das ditaduras.
Um estrangeiro que desembarcasse hoje em Brasilia e fosse tentar entender a razão de tudo isso certamente se espantaria: afinal, para que servem um ministério e uma agência reguladora, se não for para cuidar exatamente de projetos como a banda larga? A resposta: tudo foi feito para premiar amigos do poder. O interesse público, sobre o qual falamos tanto acima, foi simplesmente colocado para escanteio, sem a menor cerimônia.
Se formos procurar, encontraremos outros exemplos nas demais agêncas reguladoras. Basta entrar no Google e pesquisar termos como Anvisa, Anac, ANP etc. Ali estão mais escândalos e indicações políticas do que a tal preocupação com o cidadão. E como a sociedade pode se defender diante dessa ação deletéria de falsos “servidores” públicos? Arrisco-me a dizer que o conceito mais importante a ser assimilado é justamente o de Cidadania. Cabe à sociedade, ou seja, aos cidadãos, cobrar esses compromissos do governo. Independentemente de quem votou em quem, os que estão no poder devem ser, sempre, servidores públicos, assim mesmo, sem aspas. O dinheiro que recebem para isso não lhes pertence e, portanto, não pode ser usado em seu benefício, ou de seus amigos. Temos, nós cidadãos, o dever de exigir que, no mínimo, cuidem daquilo que a Constituição nos garante. Será o primeiro e decisivo passo.