
No post anterior sobre as agências reguladores, deixei de lado o caso da Ancine por esta simbolizar o que há de pior na relação Estado-Sociedade no Brasil. Como a Embrafilme nos tempos dos militares (na verdade, também no governo Sarney), a Agência Nacional de Cinema e Audiovisual foi transformada numa espécie de clube de amigos, alimentada com dinheiro público. Gosto sempre de lembrar o saudoso Hector Babenco dizendo que os produtores deveriam trabalhar para não depender da Ancine – quando, na prática, faziam (e muitos ainda fazem) exatamente o contrário.
Nada disso, no entanto, autoriza o presidente da República a intervir na produção cinematográfica. Muito menos por decreto. Existem regras para nomeação de diretores e conselheiros das agências reguladoras. A transferência da sede da Ancine para Brasilia será inócua se não houver uma mudança de mentalidade, com política de regras claras e culto à eficiência, sem ideologismos.
Acho que um dos grandes problemas da Ancine (e não vi ninguém do governo se pronunciar a respeito) é sua duplicidade de funções: fomento e fiscalização. Qualquer jovem empreendedor sabe que não se deve dar a um mesmo funcionário os papéis simultâneos de “chefe de produção” e “controlador dos gastos”. É a Ancine, hoje, quem destina os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, que financia as produções cinematográficas, e também quem fiscaliza se os produtores estão cumprindo as regras.
Como bem lembrou o colega Samuel Possebon, do site Tela Viva, em artigo recente, essa estrutura já era para ter sido alterada no governo Lula, em 2003, mas por pressão dos produtores (via Ministério da Cultura) tudo acabou ficando na mesma. Com Dilma, os poderes da Agência só foram ampliados. Pelas declarações do atual presidente e de seus ministros, aspectos como eficiência nos gastos e qualidade das produções são secundários; mais importantes seriam questões de gênero e perseguições políticas quase infantis.
A questão de fundo para a Ancine, e para todo o setor cultural brasileiro, é a indefinição quanto a uma velha pergunta: cabe ao Estado financiar a cultura, mesmo em situação de crise econômica como a atual? Se cabe, como isso deve ser feito? Os constituintes de 1988 fixaram na lei que, sim, essa é uma obrigação do Estado brasileiro (vejam aqui). Só que deixaram para um futuro “Plano Nacional de Cultura” explicitar as regras, o que não foi feito até hoje.
Assim, frequentemente se dá apoio a artistas famosos como se fossem humildes cantadores do sertão e não tivessem como se financiar; ou confunde-se a preservação de museus, bibliotecas e monumentos históricos com o financiamento de shows internacionais, por exemplo. Em geral, levam vantagem os amigos do rei.
Se Bolsonaro extinguir a Ancine, nada acontecerá além de gerar milhares de desempregos a mais. Privatizar? Não faz o menor sentido, já que agência reguladora não é empresa, não gera receita. “É muito importante que o produto da Ancine esteja alinhado com o sentimento da maioria da nossa sociedade. Um sentimento de dever, de cultura adequada, um sentimento cristão”, declarou o porta-voz da Presidência. Lamentável: os filmes não são um “produto da Ancine”. E, convenhamos, falso moralismo também não adianta nada numa hora dessas.
Na foto ao alto, cena de Cidade de Deus, a obra-prima de Fernando Meirelles, indicada ao Oscar e financiada (em parte) através da Ancine.
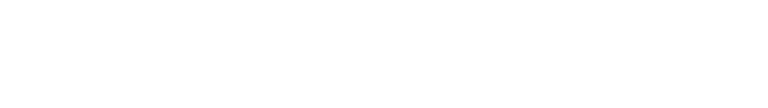


1 thought on “O futuro da Ancine (qual futuro?)”